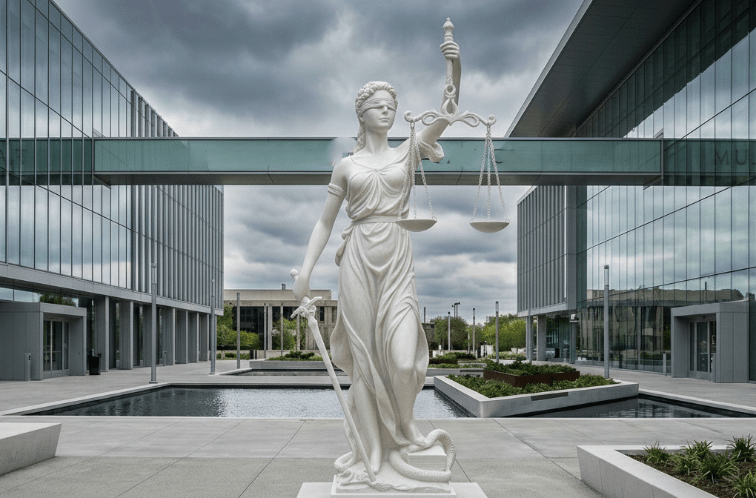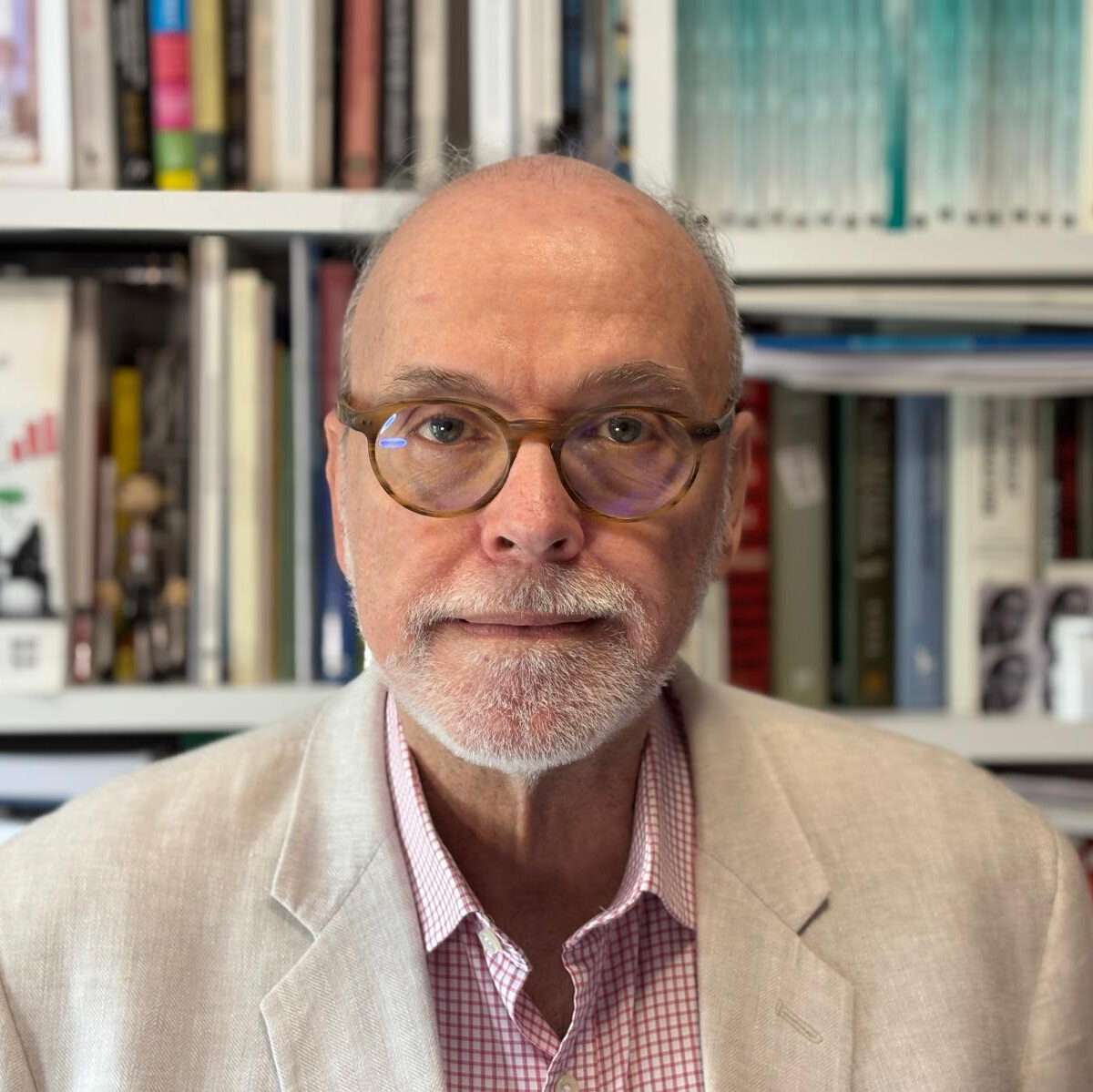
O atual debate econômico brasileiro traz lembranças do romance de Fernando Sabino de título similar ao deste artigo. O romance pode ser interpretado como uma metáfora para a jornada humana em busca de identidade e propósito: um momento de revelação que, no entanto, pode nunca se concretizar. No caso brasileiro, o debate sobre a situação fiscal do setor público gera questões sobre a sustentabilidade do modelo econômico do país. Vários analistas (por exemplo, Paulo Paiva, Maílson da Nóbrega) e instituições (por exemplo, a Instituição Fiscal Independente vinculada ao Senado Federal) têm alertado para a possibilidade de uma crise fiscal nos próximos anos.
Esse debate frequentemente observa que o “engessamento” do orçamento público, incluindo os pisos constitucionais para a saúde e a educação, restringe a flexibilidade do governo para financiar despesas discricionárias (por exemplo, investimentos). Um parâmetro que merece uma atenção especial é a relação entre a dívida pública bruta e o PIB, já que a mesma indica a saúde fiscal do país. No caso do Brasil, essa relação era de 83,9% ao final de 2022 e estima-se que ela chegará a 92% ao final de 2025 (com base na metodologia do FMI). Nos EUA essa relação deve chegar a 122,5%, no caso do Japão 234,9% e na Argentina 73,1% (estimativas para o final do ano).
As referências a esses países são úteis porque elas ilustram as diferentes dinâmicas que podem impactar o cenário macroeconômico de um país. A elevação da relação dívida bruta/PIB no caso brasileiro reflete o nosso déficit nominal elevado (da ordem de 8,5% do PIB em 2025). A despeito das afirmações oficiais de que o arcabouço fiscal está sendo respeitado (e que o déficit primário seria zerado em 2025), a realidade é que as cifras monitoradas pelo arcabouço excluem despesas extraordinárias (por exemplo, precatórios). Além disso, a elevação da taxa de juros (SELIC) a partir de 2021 vem impactando o custo do serviço da dívida pública. Nesse contexto, o resultado nominal cresce mais rapidamente do que o crescimento do PIB e, como consequência, a relação dívida bruta/PIB continua a aumentar.
A expansão da relação dívida/PIB no caso dos EUA é também influenciada por déficits nominais significativos (na faixa de 6 a 7% do PIB nos últimos anos; muito embora o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, recentemente tenha anunciado que o déficit foi de 5,9% no ano fiscal terminado em 30/09/2025). Já no caso do Japão, mesmo com um déficit nominal tipicamente na faixa de 2 a 3% do PIB, a evolução da relação dívida/PIB reflete o crescimento anêmico da economia japonesa nos últimos anos. A Argentina, por sua vez, vem implementando um ajuste fiscal significativo durante a administração Milei (atingindo um superávit nominal de quase 1% do PIB em 2024). Nesse contexto, a relação dívida/PIB diminuiu nos últimos dois anos, mas a composição da dívida permanece sendo um problema dada a exposição da mesma ao dólar dos EUA (US$).
Existe uma ampla literatura sobre as implicações da dívida pública para o crescimento econômico (veja, por exemplo, C.A. Primo Braga e G.A. Vincelette, eds., Sovereign Debt and the Financial Crisis. Washington, DC: The World Bank, 2010). Essa literatura em muitos casos explora se há um limiar na relação dívida/PIB a partir do qual a dívida passa a ter um impacto negativo sobre o crescimento econômico. É importante reconhecer que os efeitos negativos da acumulação de dívida pública acima de um certo limiar são influenciados pela qualidade das instituições de cada país. Consequentemente, a identificação de um limiar único para países ricos e economias emergentes é uma tarefa difícil, muito embora um limiar de 90% para a relação dívida bruta/PIB seja frequentemente mencionado.
Para os países mencionados neste artigo, a questão mais relevante diz respeito à identificação do que poderia deflagrar uma crise sistêmica, refletindo preocupações com a sustentabilidade da dívida. No caso dos EUA, a perda de credibilidade do dólar como moeda de referência para a economia global é um indicador relevante. O US$ permanece como a moeda base para transações internacionais (respondendo por 89% dos contratos de câmbio) e cerca de 58% das reservas internacionais de bancos centrais. E não existe uma alternativa óbvia para o dólar no curto prazo.
Mas desde 20/01/2025 (a inauguração da nova administração Trump), o índice DXY que compara o US$ com uma cesta de seis moedas relevantes (euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço, com diferentes pesos na construção do índice) sugere uma desvalorização do dólar de cerca de 9,2%. Caso essa desvalorização continue, esse fenômeno poderia provocar um colapso de confiança nos títulos da dívida dos EUA, gerando um impacto desestabilizador para a economia global.
No caso do Japão, a dívida pública vem sendo financiada domesticamente por taxas elevadas de poupança da população japonesa. O rápido envelhecimento dessa população, no entanto, sugere que os próximos anos serão caracterizados por uma queda na taxa de poupança e a possibilidade de um círculo vicioso (a necessidade de rendimentos mais elevados para o financiamento da dívida pública), afetando a sustentabilidade da dívida a médio prazo.
O caso da Argentina, por sua vez, ilustra o fato de que austeridade fiscal é necessária, mas não é suficiente para corrigir uma situação de endividamento público elevado. Ao utilizar a taxa de câmbio como um dos instrumentos em sua luta contra a inflação, o governo Milei provocou uma valorização excessiva do peso. Nesse contexto, importações aumentaram significativamente e as reservas internacionais da Argentina foram impactadas. Tentativas de estabilizar o peso, após a derrota do governo nas eleições na província de Buenos Aires (7/09/2025), contribuíram ainda mais para diminuir as reservas argentinas. A percepção de que uma crise de liquidez estava próxima gerou pressões adicionais sobre o peso, que só foi amenizada pelo anúncio de apoio financeiro pelos EUA (uma linha de swap cambial de US$20 bilhões e intervenções diretas no mercado de câmbio). A história de estabilizações econômicas da Argentina, porém, não permite um grande otimismo sobre o resultado final dessas intervenções. Além disso, as eleições legislativas de 26/10 podem tornar ainda mais difícil a implementação das reformas econômicas do governo Milei.
O calendário eleitoral brasileiro também gera preocupações com relação ao futuro da situação fiscal do país. Em um ano de eleição presidencial é difícil imaginar que o governo irá implementar uma política de ajuste fiscal. E as tensões atuais entre o Executivo e o Congresso (como ilustrado pelo debate sobre o IOF e a derrota da MP 1.303) sugerem um cenário complexo para a atual administração em 2026. Uma coisa é certa: o governo que assumir em 2027 terá um encontro marcado com uma crise fiscal.
Carlos Primo Braga é Ph.D. em Economia pela Universidade de Illinois Urbana-Champaign, Professor Associado da Fundação Dom Cabral. Foi Diretor de Política Econômica e Dívida do Banco Mundial. Autor.