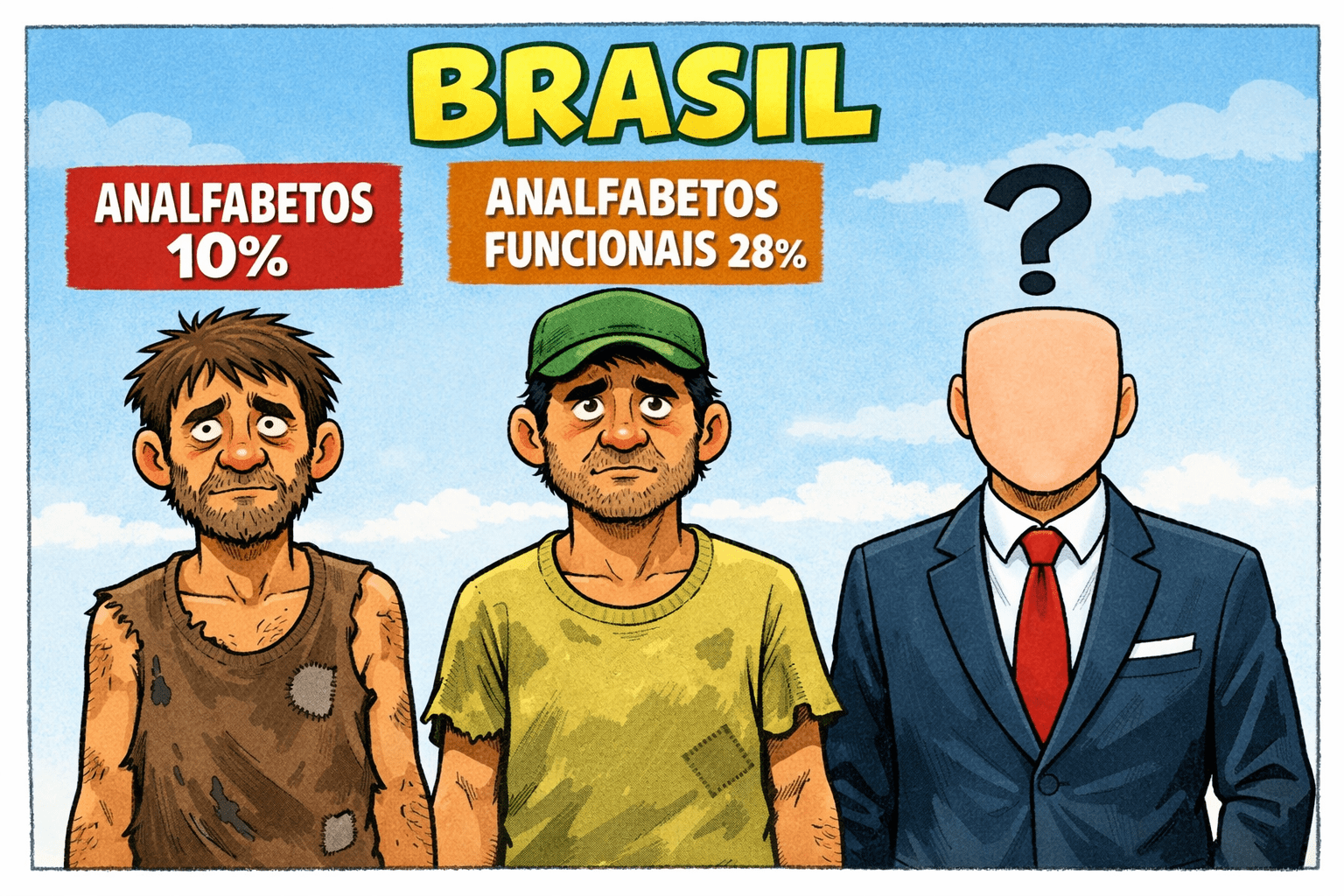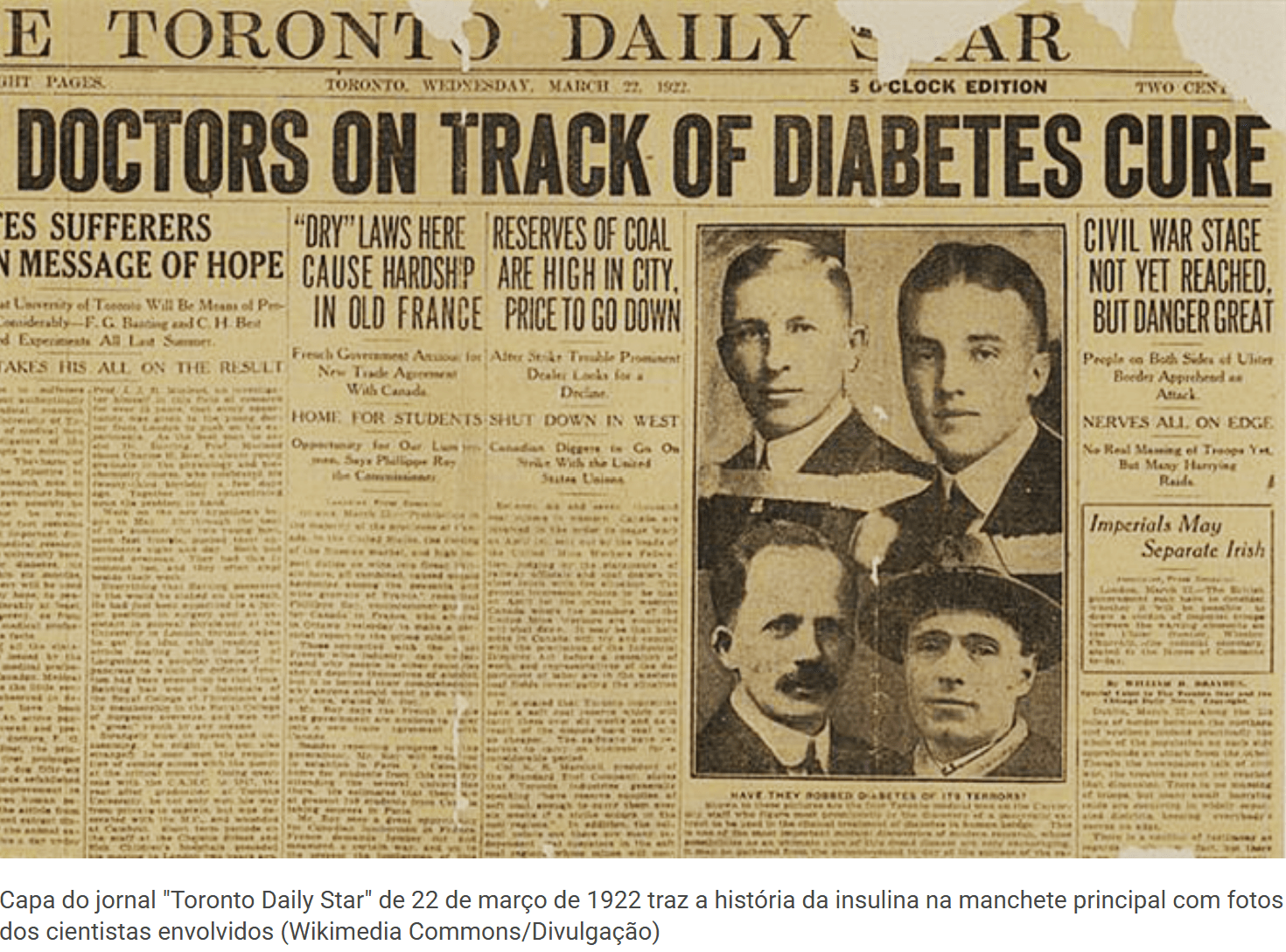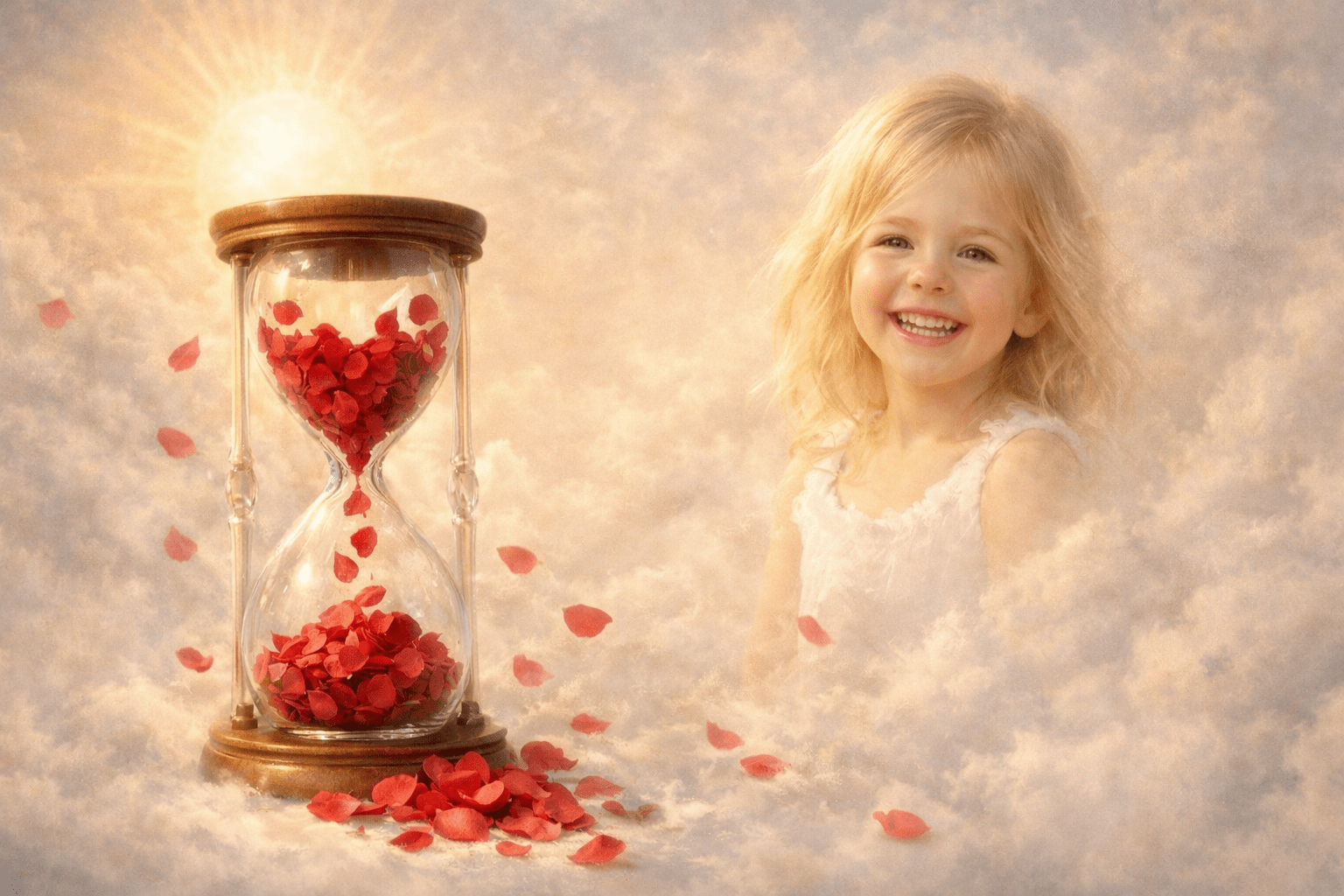Em Bem-me-quer, malmequer, publicado anteriormente em Capa Brasil, deixamos em suspenso a pergunta: qual seria o critério de confiança da razão? Arendt nos mostrou como a razão pode gerar o mal banal; Sen nos ofereceu caminhos para o bem através da interdependência social. Na busca de uma resposta, Robert Nozick, em The Nature of Rationality (1993), parte de uma ideia simples: a razão não serve apenas para calcular os meios para os fins. Ela também dá forma àquilo que valorizamos. Em situações extremas, como retratado em filmes como O Pianista e Bacurau, essa função simbólica é a que resta.
A inovação de Nozick é ver o eu como algo em construção. Cada escolha é uma pincelada que diz “isso é o que eu sou”. Quando recusamos um suborno, falamos a verdade mesmo que doa ou agimos com dignidade sem testemunhas, não estamos apenas seguindo normas. Estamos criando um símbolo de quem queremos ser, e esse símbolo nos constitui.
A razão, aqui, não responde a “o que devo fazer?”, mas à pergunta mais profunda: “quem quero ser?”. E a resposta não fica somente na minha cabeça: ela precisa ser compreensível, defensável, compartilhável. É esse caráter de relação com o outro que faz da moralidade não uma imposição externa, mas uma dimensão que a própria razão passa a exigir quando se afirma.
Valor que só existe entre nós – Esses valores não nascem de cálculos isolados. Eles surgem no encontro entre pessoas. Nozick chama isso de valor simbólico: é aquilo que uma ação ganha por representar algo sobre nós, não pelo resultado que produz.
Para usar uma imagem que ele não usa, mas que ilumina sua ideia: é dessa maneira que percebemos a beleza. Ela nos atrai como algo digno de ser mantido. A mesma coisa vale para o amor: reconhecemos nele algo que merece ser respeitado. Quem ama não inventa o valor do nada; participa de sua revelação, ao tratá-lo como tal.
Essa ideia não é abstrata. Ela se revela com intensidade no filme O Pianista (2002), de Roman Polanski. Władysław Szpilman, o pianista judeu sobrevivente do gueto de Varsóvia, passa boa parte do filme em silêncio, escondido, faminto, à beira da loucura. Em certo momento, um oficial alemão o descobre. Em vez de matá-lo, pergunta: “O que você fazia antes da guerra?” Szpilman responde: “Era pianista.” O oficial pede que toque.
Aproxima-se então de um piano coberto de poeira e começa a tocar Chopin. Seu corpo treme; as mãos quase não obedecem. Mas algo se recompõe naquele gesto: ele não está apenas tocando música, está reafirmando quem é. Não há público, não há recompensa, não há estratégia. A ação é inútil, não produz resultado. Mas carrega uma força simbólica imensa: é um ato de recusa da desumanização, uma afirmação de que, mesmo no meio do horror, há algo que merece ser mantido.
Essa cena exemplifica como a razão simbólica funciona na prática: a ação é racional porque representa algo sobre quem somos. Outras tradições leriam essa mesma cena de formas diferentes: a religião veria graça divina; o existencialismo, liberdade radical; o positivismo, rebeldia contra o determinismo. Cada leitura ilumina algo.
Se O Pianista ilustra a resistência individual, Bacurau (2019) mostra o mesmo mecanismo coletivamente. No filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, os moradores de uma localidade sertaneja que está cercada por turistas de “safari humano” lutam para sobreviver, mas também para não serem apagados como sujeitos de valor.
Quando decidem responder à violência com precisão e justiça, estão afirmando que sua existência tem um sentido que não pode ser reduzido à utilidade ou ao espetáculo. Assim como Szpilman, eles recusam a indiferença e, com suas ações, dão forma a um mundo em que algumas coisas ainda importam.
***
Ao tratar algo como valioso num mundo que se dissolve na desorganização (onde o ódio e as fake news alimentam uma espécie de “entropia” do significado), a racionalidade, nessa concepção, se torna um ato poético de resistência. Szpilman, ao tocar Chopin diante do inimigo, não altera a guerra. Os moradores de Bacurau não impedem que o mundo exterior os ignore. Mas ambos restauram uma hierarquia de valor: dizem, sem palavras, que certas coisas simplesmente merecem existir.
Nozick não fecha o debate sobre o bem e o mal: cada filosofia (religião, existencialismo, positivismo) ilumina um aspecto. Mas ele nos fornece uma nova lente: a de que dar sentido à própria vida já é um ato ético. E me fez sentir, caro leitor, que até mesmo escrever este modesto texto faz parte da resistência.
Elson Luiz de Almeida Pimentel Mestre em Filosofia pela UFMG
Autor de Dilema do Prisioneiro: da Teoria dos Jogos à Ética