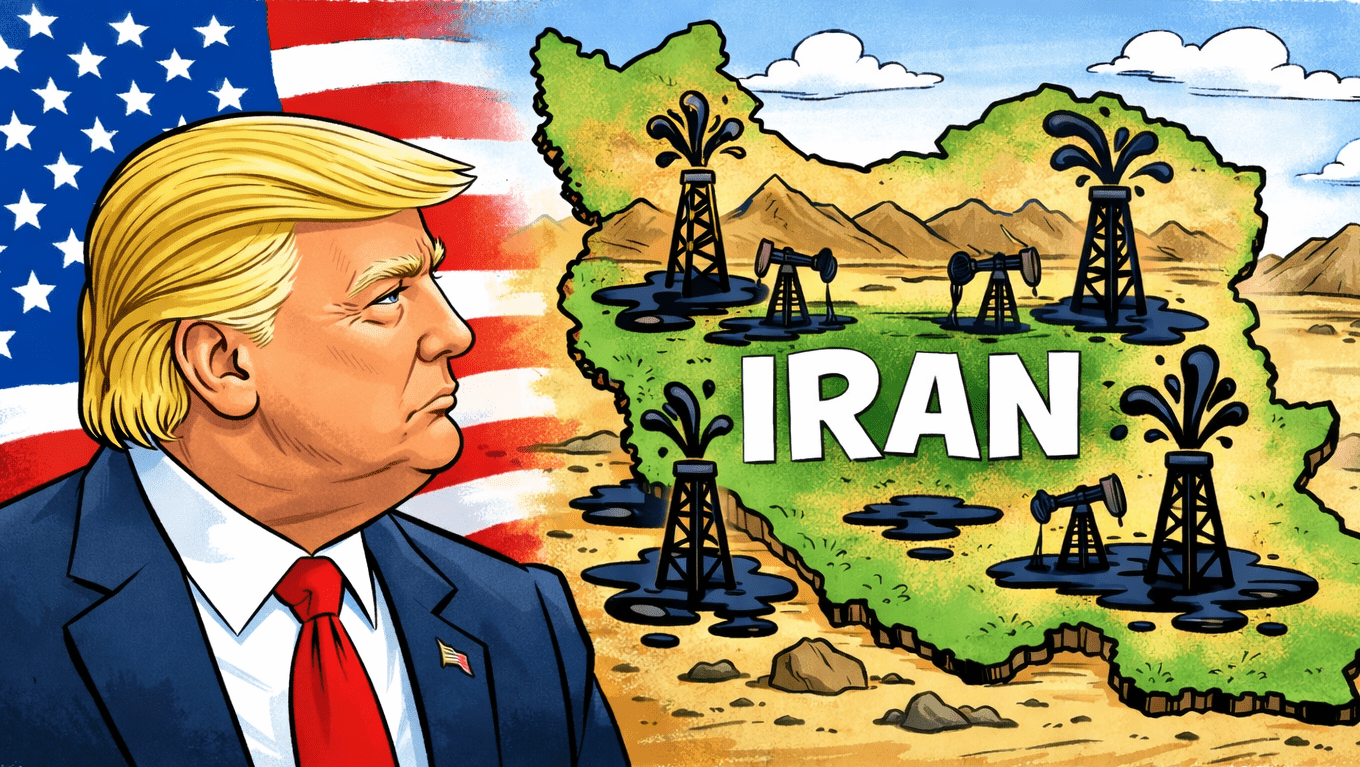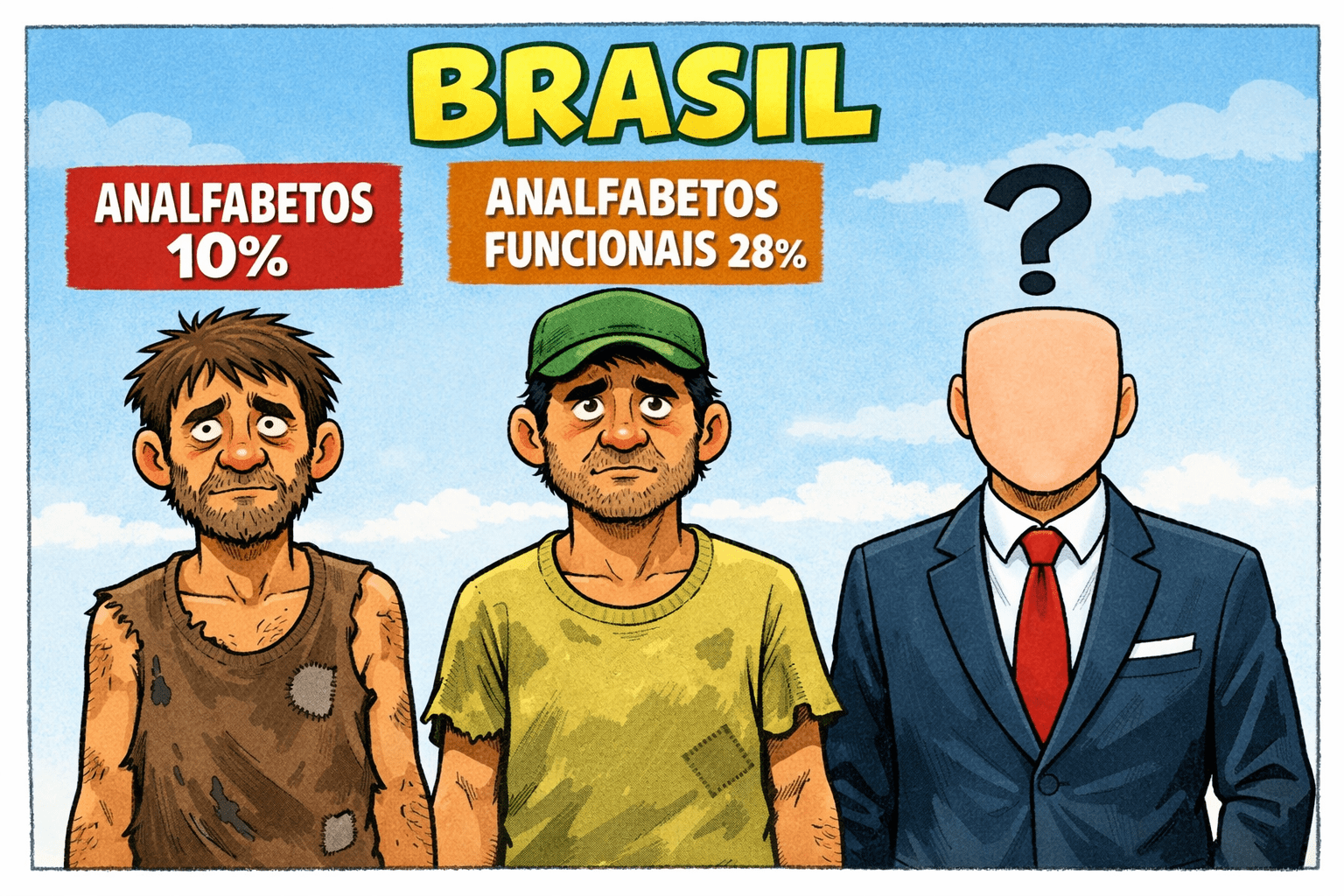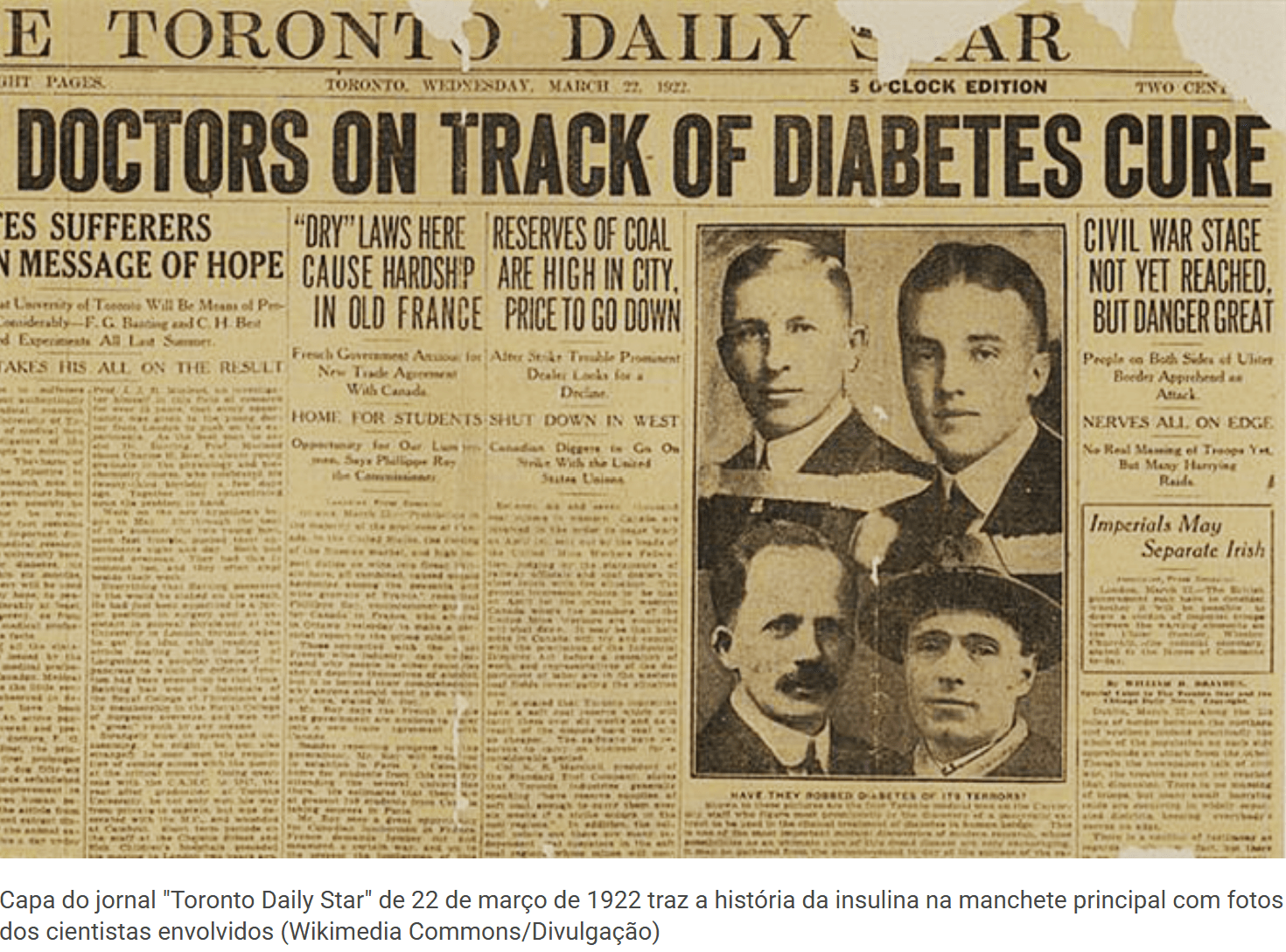Repassando alguns trechos de O Perfume, best-seller de Patrick Suskind, uma ideiazinha maluca vem acompanhando comigo a leitura, eu a enxoto, passo a outro trecho, ela corre à minha frente e eu a encaro: – O que há? Ela vira uma cambalhota, abre os braços, solta uma gargalhada louca e desafia: – Sabe a semelhança entre Grenoville e o brasileiro?
Não sabe o leitor? Pois vamos repassar juntos essa história e tentar decifrar a charada com que essa ideiazinha maluca nos provoca.
Depois de ter descoberto que não tinha um odor próprio, Grenoville reúne as substâncias que o seu olfato lhe indica serem capazes de reproduzir o cheiro de gente. Fabrica aquele aroma, besunta-se e pronto: passa a ter aura humana e as pessoas passam a notá-lo e a reconhecê-lo e alguém observa que ele tinha “ganho algo como uma personalidade”. A partir daí teve todas as condições para levar à frente os seus projetos.
Quem dera que fosse simples assim para um povo tomar consciência de si mesmo e assumir sua própria identidade. Puseram na cabeça do brasileiro que o seu problema vinha com ele do berço – a indolência – e era agravado pelo clima, e aqueles que incorporaram à sua pele esse falso perfume puseram-se de cócoras e – ai! que preguiça! – passaram a esperar um milagre. O milagre deveria vir de uma autoridade forte ou de um líder carismático, expectativa comum quando a maioria não tem, ela própria, uma personalidade e os governos não deram conta do recado, ai! que preguiça!
O perfume que nos daria a aura de nação nós o desprezamos e bastaria uma pitada de conhecimento do nosso passado, uma colher de chá para os ensinamentos de nossos pensadores, uma justa medida de observação de nossos erros e acertos. Mas um bando de indolentes não tem história e segue cometendo erro sobre erro, e o brasileiro refaz, conserta, anda em torno.
Não, essa aura de civilização com base no autoconhecimento parece muito difícil de ser obtida, depois há sempre o risco de incorrermos na ilusão de Grenoville de fabricar uma película fictícia, capaz até de iludir os outros, mas sempre impossível de sanar a nossa própria angústia.
Não há remédio então para que o Brasil que nós sonhamos deixe de ser tão futuro e – que diabo! – possamos viver as benesses de uma grande nação.
Toynbee, o historiador inglês que construiu boa parte de suas teorias dentro do princípio de que civilização é igual a autoconsciência, aponta um caminho para o qual olho às vezes com ares divertidos e outras vezes – na medida em que as coisas se tornam mais absurdas – com muita seriedade.
Pois ensina o historiador que as utopias, lugares imaginários onde se implantaram sociedades tidas como perfeitas, foram idealizadas pelos gregos como último remédio para se deter o declínio das civilizações.
Nós que, na acepção de Toynbee, nem somos ainda uma civilização, mas que temos nos mostrado pródigos em construir teorias as mais criativas na economia e na política, bem que poderíamos idealizar a nossa utopia.
Não poderíamos, é claro, incorrer no mesmo erro de Thomas Morus que, em boa fé, alicerçou sua Utopia na Providência Divina. Esqueceu-se de que quando, séculos antes, os gregos idealizavam uma vida de prazeres, eles o faziam dentro da convicção de que os deuses eram serem perfeitos que nada tinham a ver com os homens. E que esses deveriam buscar dentro de seus próprios limites os instrumentos capazes de lhes proporcionar a felicidade.
Lindolfo Paoliello é cronista, autor de O País das Gambiarras, Nosso Alegre Gurufim e A Rebelião das Mal-Amadas.