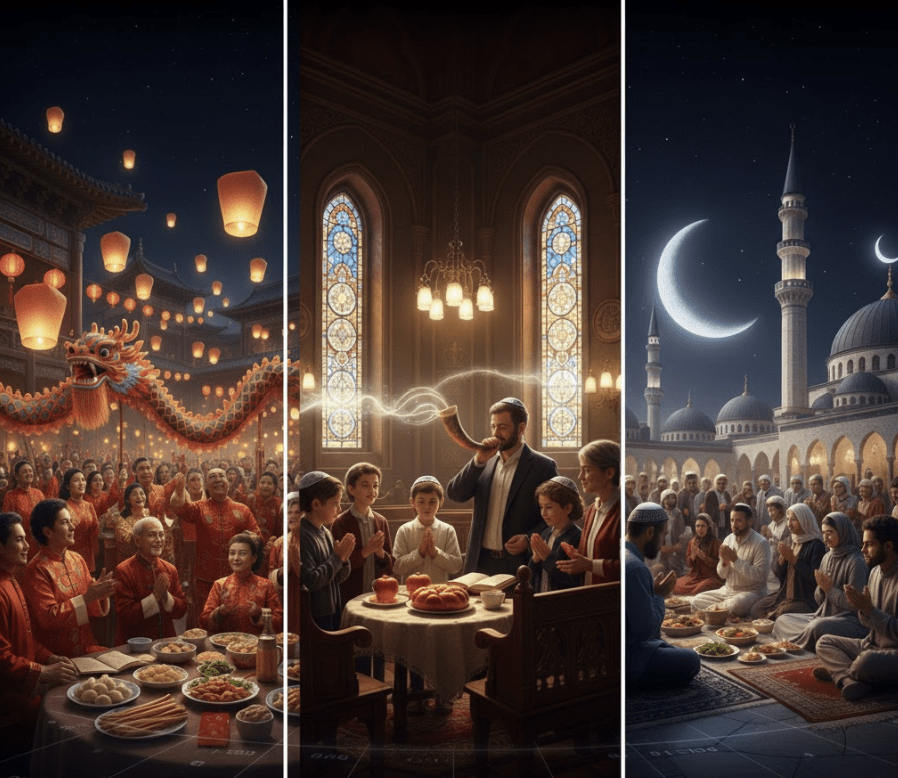Há um tipo de receita que não vem com dosagem nem contraindicações. Vem com histórias.
Chega em verso, em cantiga, em livro de pano, em voz baixa no escuro.
É a que pediatras em todo o Brasil começaram a carimbar com a mesma seriedade com que receitam vitaminas ou orientam sobre vacinas: leia para essa criança.
A campanha “Receite um Livro”, lançada em 2015 pela Sociedade Brasileira de Pediatria em parceria com a Fundação Itaú Social e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, nunca foi tão atual. Dez anos depois, o que era uma recomendação tornou-se urgência: em um mundo dominado por telas e algoritmos, a leitura compartilhada resiste como um dos últimos territórios de humanidade.
A iniciativa se inspira em programas internacionais como o Reach Out and Read, que há três décadas forma pediatras para prescrever leitura como parte dos cuidados com a saúde infantil. Nos Estados Unidos, são mais de 21 mil profissionais e 5 mil clínicas envolvidas, beneficiando 4 milhões de crianças. No Brasil, a estratégia é similar: transformar o consultório em espaço de incentivo à leitura, com livros na sala de espera, orientações durante as consultas e até a oferta de publicações infantis para famílias em situação de vulnerabilidade.
E os resultados falam por si. Um estudo recente do Núcleo Ciência Pela Infância reforça que a leitura na primeira infância está diretamente ligada ao desenvolvimento de funções executivas, vocabulário e regulação emocional. Crianças que ouvem histórias desde cedo não só se tornam melhores leitoras, mas também desenvolvem mais empatia e capacidade de concentração.
Mas o que significa “ler” para quem ainda não decifra letras?
Muito mais do que palavras enfileiradas.
Significa troca de olhares, tom de voz que embala, repetição que acalenta.
“O bebê, ao nascer, já vem com a capacidade de escutar. Quando se lê para ele em voz alta, ele se põe em posição de escuta. Está tratando de construir significado à sua maneira”, explica o psicolinguista Evelio Cabrejo Parra.
A linguagem, aqui, não é enfeite. É território de existência.
E não é preciso diploma para habitar esse lugar.
Pais que cantam, contam causos, mostram figuras — mesmo sem saber ler — estão erguendo, tijolo a tijolo, a arquitetura invisível que sustenta o pensamento.
Em um trabalho com adolescentes de diferentes classes sociais, a psicanalista Patrícia Pereira Leite descobriu que o que definia o interesse pela leitura não era a renda, mas as experiências de transmissão afetiva da linguagem na infância.
A campanha também olha para quem foi historicamente deixado de fora da página.
Crianças com deficiência visual, auditiva ou cognitiva ganham livros em braille, com fonte ampliada, imagens em relevo e audiodescrição, graças a iniciativas como as da Escola de Gente e da Fundação Dorina Nowill.
“O ato de ‘ler’ deve dar conta de todos os modos de existir”, defende Claudia Werneck, fundadora da Escola de Gente.
No fim, receitar um livro é receitar tempo.
É lembrar que, antes de qualquer tela, veio a voz. Antes de qualquer algoritmo, veio a narrativa.
E que, num país ainda tão desigual, a cultura pode ser o mais democrático dos remédios — e o mais potente dos legados.
A pergunta que fica não é quantas palavras uma criança conhece antes da escola.
Mas quantas histórias nós lhe demos — e quantas ela será capaz de contar, um dia, sobre si mesma.
*Artigo originalmente publicado no Diário de Taubaté e Região
Danielle Balieiro Amorim é Jornalista, Escritora e Ghost-Writer. Na Accenture, desenvolveu expertise em Comunicação, Gestão de Pessoas, PMO, Treinamento e Desenvolvimento, entre outras áreas. Escreve duas colunas semanais para o jornal Diário de Taubaté e para revistas brasileiras nos Estados Unidos. Tradutora dos idiomas Inglês, Português e Espanhol. Autora do livro infantil “As Aventuras de Ximin em: Floresta Mágica”. Podcast para crianças no Youtube: “Contos para Sorrir”.