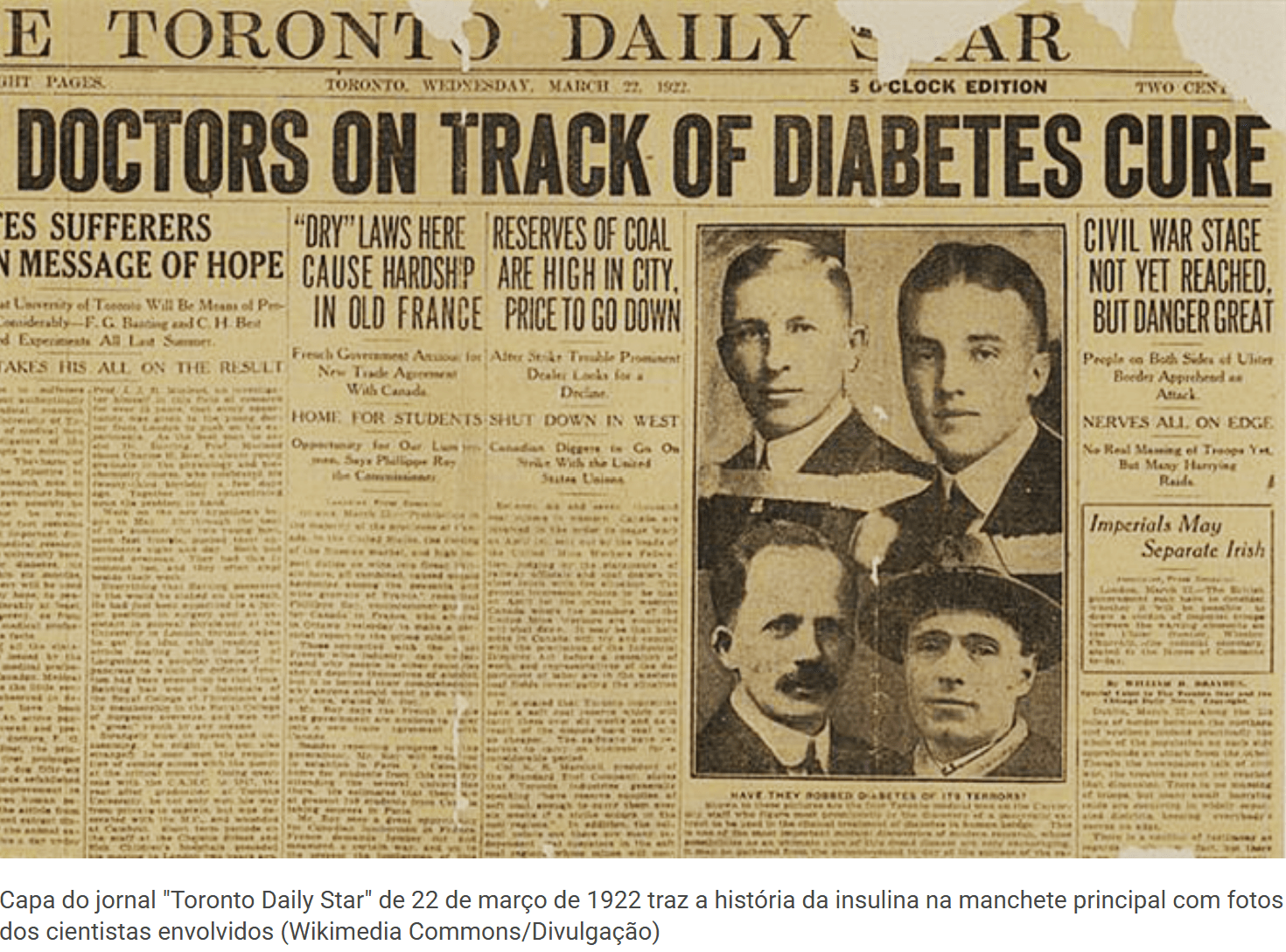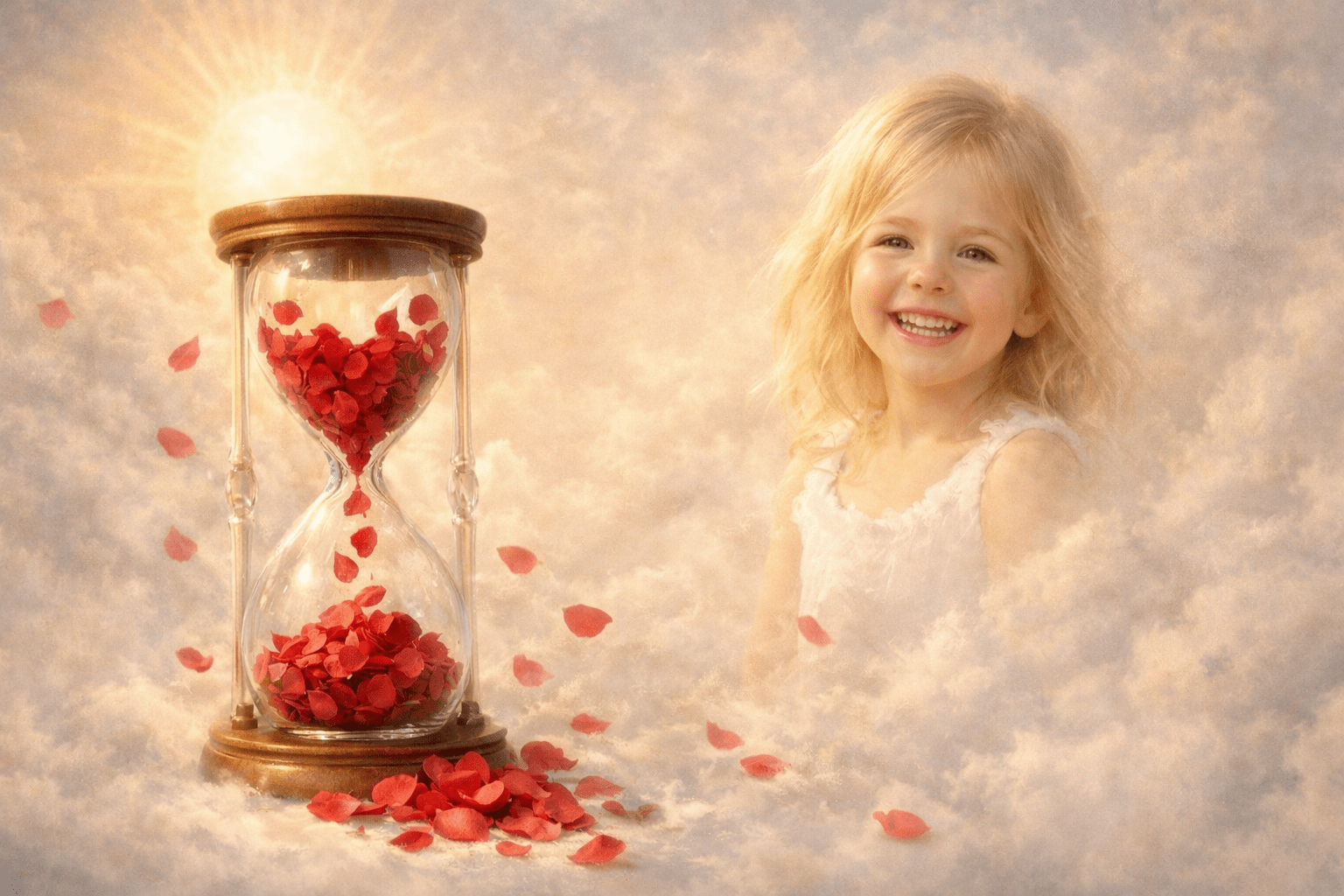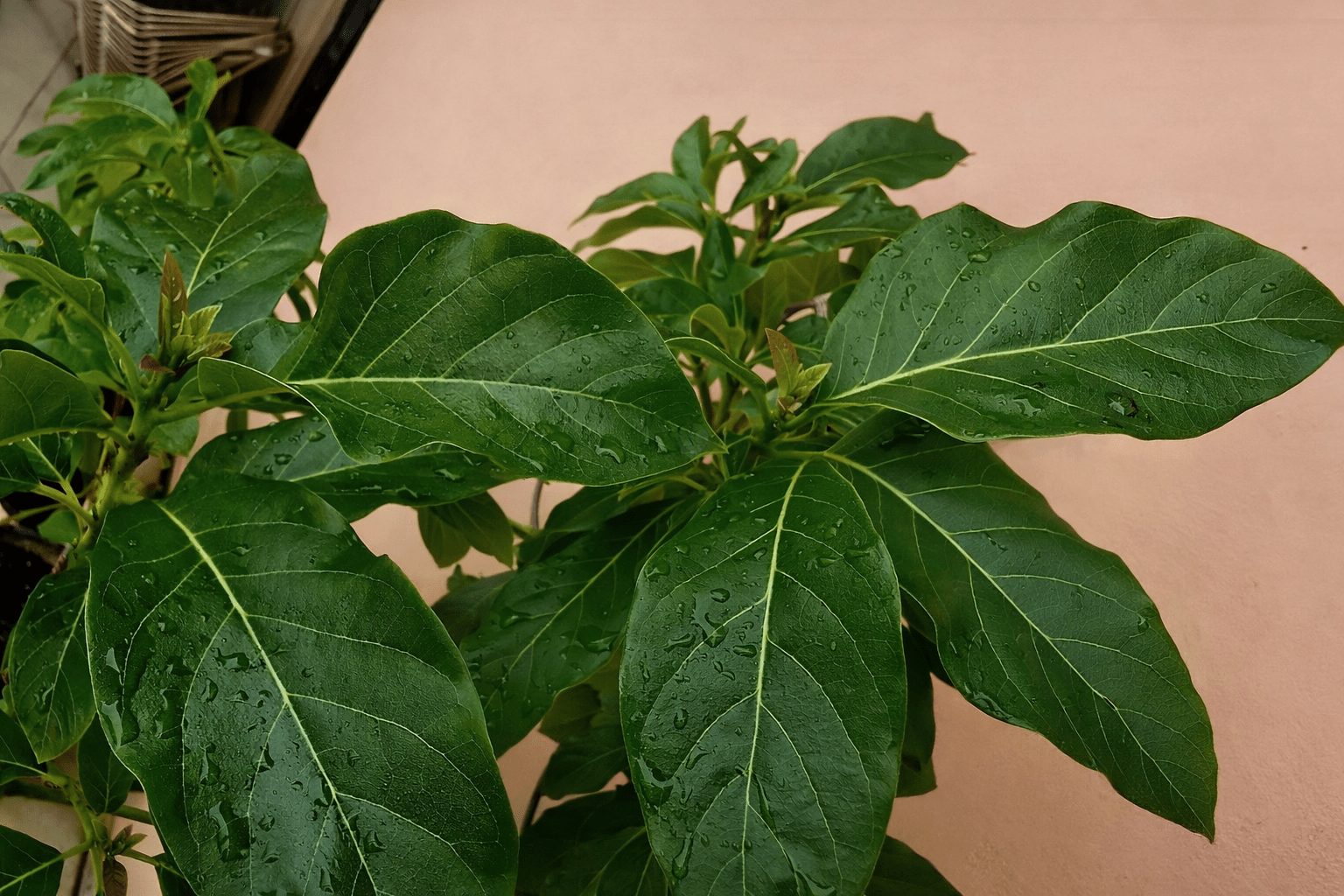Há algo profundamente desconfortável ̶ e intelectualmente desonesto ̶ na forma como parte do debate internacional invoca o direito internacional apenas quando isso convém à própria ideologia. Primeiro, decide-se a resposta. Depois, vasculham-se tratados, conceitos e princípios jurídicos que sirvam como verniz moral para uma posição já tomada. Isso não é uma defesa séria da legalidade internacional. É, no mínimo, lamentável. Na prática, trata-se de um exercício de cinismo seletivo, feito à distância e sem qualquer empatia por quem vive o colapso na própria pele.
Quando a ideologia vem antes do ser humano, e a soberania é evocada para justificar a miséria, o direito deixa de ser instrumento de justiça e passa a ser apenas retórica vazia a serviço da indiferença.
Quando um governo ataca sistematicamente o seu próprio povo, ele elimina qualquer autoridade moral para questionar os motivos de quem intervém para pôr fim a esse sofrimento. Nesse cenário, mesmo uma ação impulsionada por interesses que não sejam exclusivamente humanitários pode tornar-se necessária, legítima e moralmente defensável, porque a alternativa concreta é a continuidade da opressão.
O critério central não é a pureza das motivações externas, mas a realidade vivida internamente. E essa realidade é inequívoca. Os venezuelanos, em grande parte, comemoram e apoiam qualquer possibilidade concreta de intervenção porque sabem quem é o verdadeiro agressor. Foi o próprio regime ditatorial que, ao escolher preservar o poder à custa da fome, da repressão e da destruição social, abriu a porta para uma resposta externa.
Outro argumento recorrente ̶ e intelectualmente preguiçoso ̶ sustenta que uma intervenção não seria “humanitária”, mas movida por interesses econômicos ou estratégicos. Ainda que tais interesses existam ̶ como quase sempre existiram em ações relevantes da política internacional ̶ isso não invalida, nem de longe, a legitimidade moral do resultado quando ele atende a uma demanda real e explícita do próprio povo oprimido.
O direito internacional não existe para blindar regimes autoritários. Existe para lembrar que nenhum governo ̶ absolutamente nenhum ̶ tem o direito de destruir o seu próprio povo em nome da soberania. Invocar o direito internacional para defender ditadores é uma perversão intelectual: é transformar um sistema criado para proteger seres humanos em um argumento de conveniência para proteger opressores. Não há nada de progressista nisso. Não há nada de humanista. Há apenas o conforto moral de quem nunca precisou escolher entre soberania abstrata e sobrevivência concreta.
A reação de muitos venezuelanos deixa isso cristalino. Enquanto comentaristas estrangeiros, confortavelmente distantes, condenam intervenções em nome de uma soberania abstrata, quem vive o desespero real comemora. Comemora porque enxerga uma chance concreta de libertação. Comemora porque sabe que o “respeito à soberania” foi, por anos, a desculpa perfeita para a inércia internacional.
Por isso, a ajuda externa ̶ inclusive militar, quando necessária para proteger vidas e não regimes ̶ não representa uma violação moral do direito internacional. Ao contrário, é a afirmação de seu núcleo ético. A comunidade internacional existe precisamente para evitar que atrocidades sejam cometidas atrás de fronteiras convenientemente fechadas.
A Venezuela não é um caso de “divergência ideológica”. É uma tragédia humanitária. Milhões de pessoas foram forçadas a deixar o país. As que ficaram convivem com escassez, repressão e medo. Não há eleições livres. Não há imprensa independente. Não há Judiciário autônomo. Não existem canais internos efetivos para que o povo se liberte por conta própria. Defender que esse povo “resolva sozinho” sua situação é, na prática, defender a perpetuação do sofrimento.
Nos últimos anos, países vizinhos da Venezuela receberam milhões de imigrantes, arcando com custos expressivos em saúde, assistência social, habitação e segurança. Brasil, Colômbia, Peru, Chile e outros absorveram o impacto humano, econômico e institucional de um colapso que não criaram. Ainda assim, pouco ̶ ou nada ̶ foi feito para enfrentar a raiz do problema. Preferiu-se administrar as consequências, não eliminar a causa.
E então, quando Donald Trump tenta romper esse ciclo e propõe enfrentar o problema em sua origem, levanta-se imediatamente a bandeira da soberania e do direito internacional ̶ os mesmos conceitos que foram convenientemente ignorados enquanto a população venezuelana era empurrada para o exílio, a fome e a repressão.
Essa seletividade moral não é neutralidade. É uma escolha. E, quase sempre, uma escolha confortável, feita longe da dor, da escassez e do medo. Defender princípios abstratos enquanto se fecha os olhos para a realidade concreta não é virtude. É uma omissão travestida de sofisticação intelectual.
Se o direito internacional serve para algo, é para proteger pessoas ̶ não regimes. Quando deixa de cumprir esse papel, transforma-se apenas em linguagem elegante para justificar a continuidade da barbárie.
Se, na Europa, ao final da Segunda Guerra Mundial, as potências tivessem decidido não libertar campos de concentração para “respeitar a soberania alemã”, hoje essa omissão seria lembrada como cumplicidade. Nenhuma ordem jurídica séria pode exigir neutralidade diante de crimes massivos cometidos contra a própria população.
Bruce Grant Geoffrey Payne Glazier
Membro Externo e Presidente do Conselho Consultivo da Fex Agro Comercial
Diretor da Valoradar
Trabalhou nos Bancos Lloyds, Singer & Friedlander e Mizuho e nas empresas Abril, Suez Environment, TCP Partners e BTG Global
Membro de Conselho certificado pela Fundação Dom Cabral
Mestrado em Finanças pela London Business School
Bacharelado em Economia e Ciências Políticas pela Northwestern University