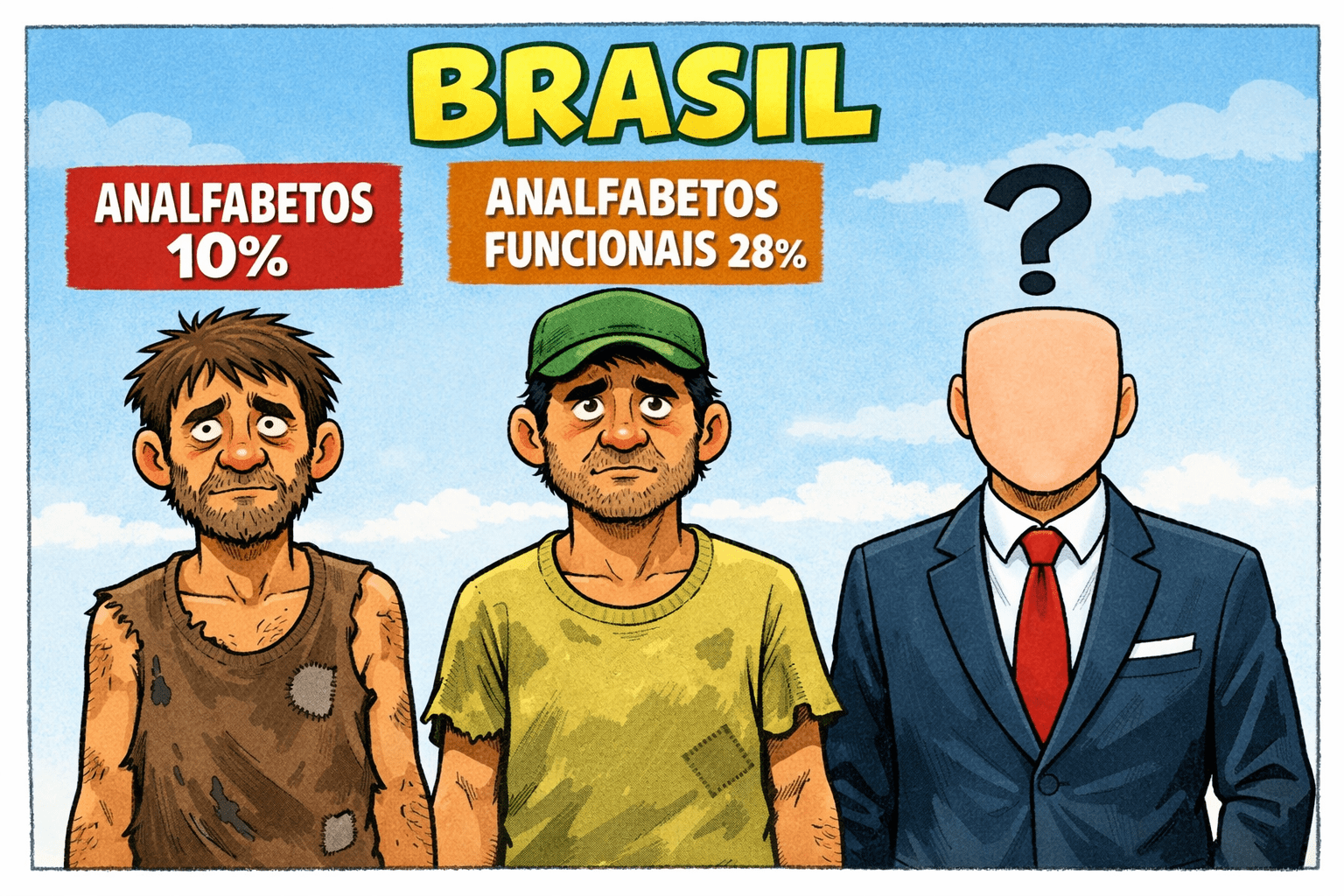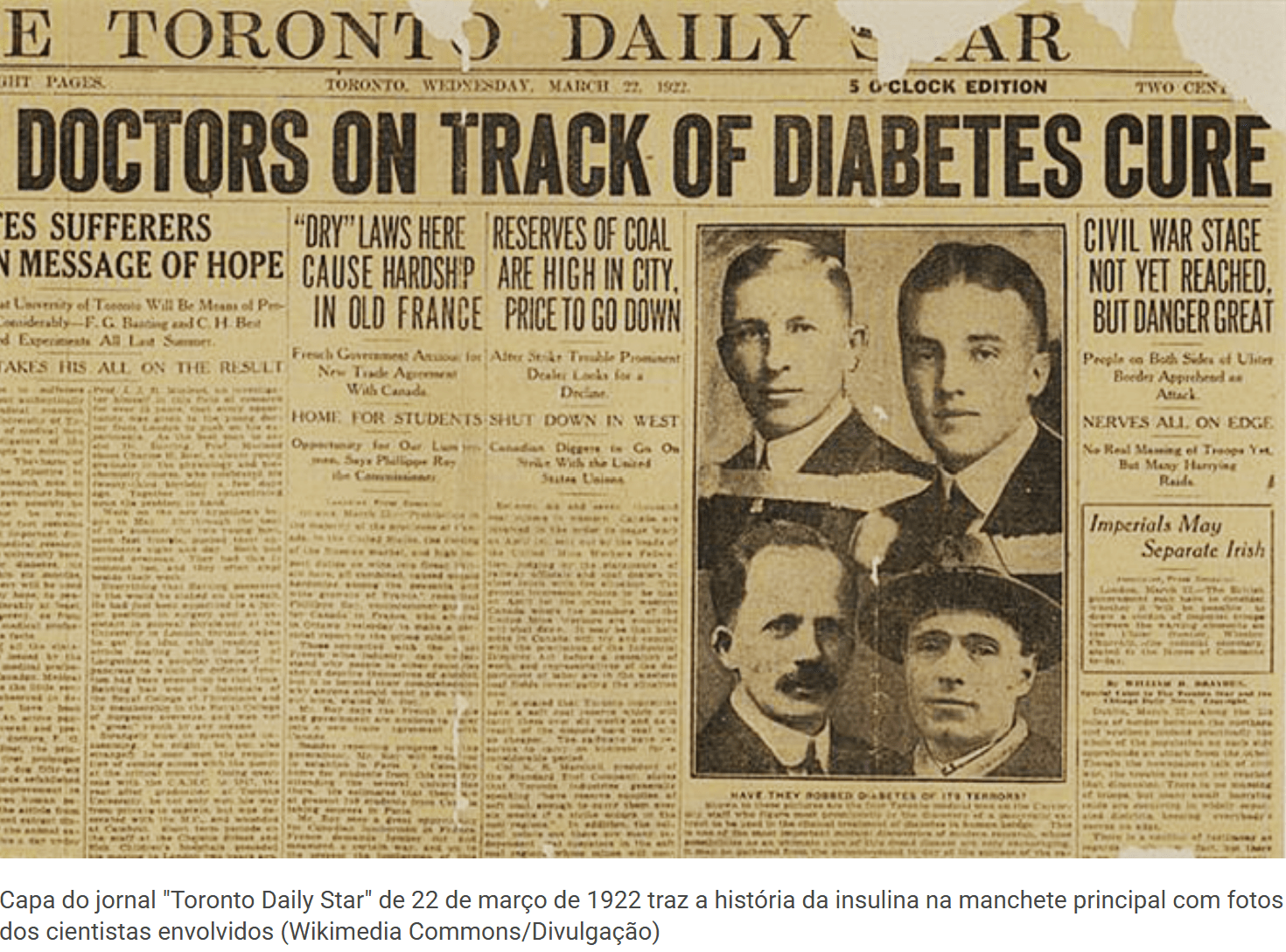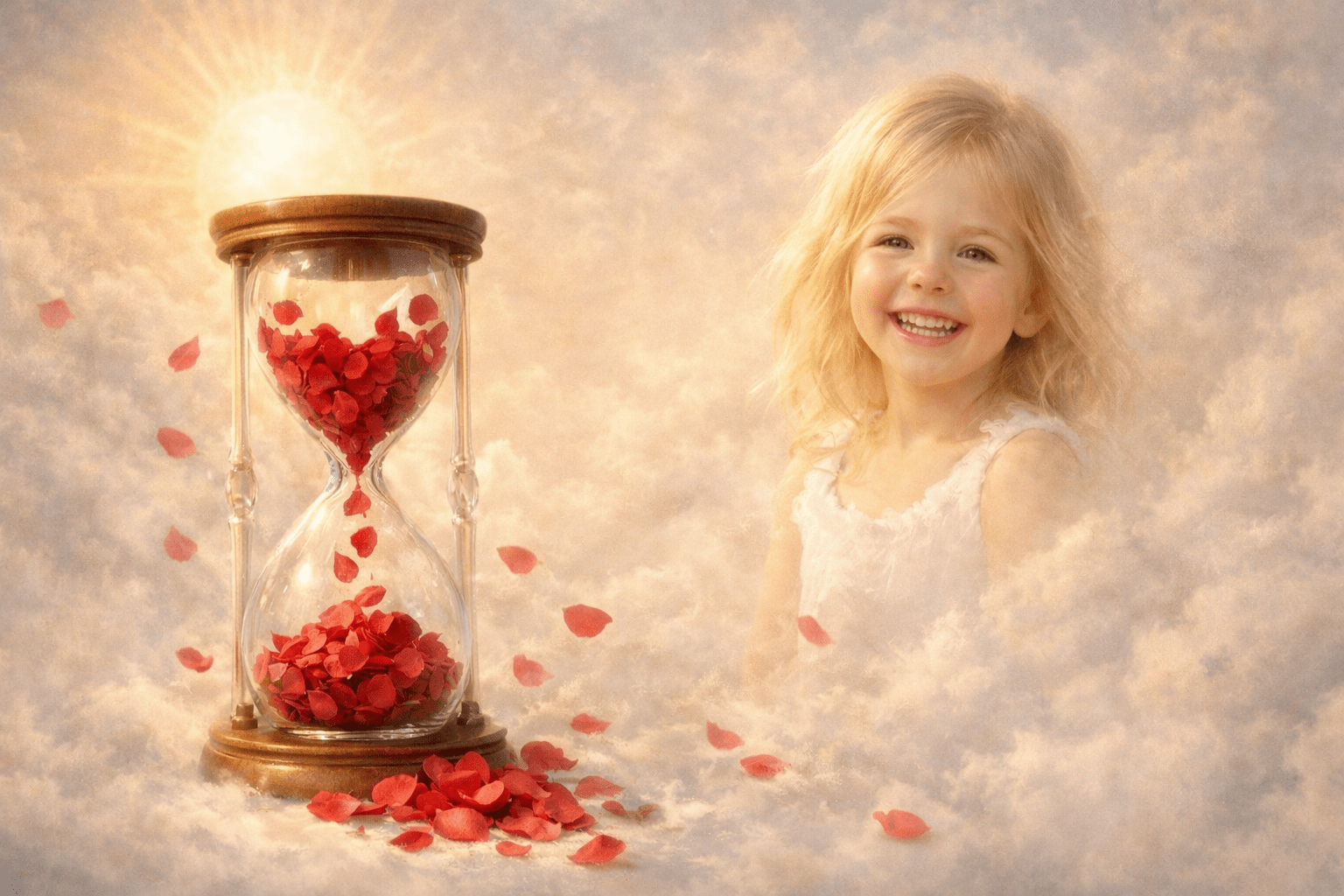Gosto de um fim de mundo, sobretudo os que ficam no meio de montanhas geladas. Nesses cantinhos perdidos, longe de tudo, sempre encontro beleza, estranheza e novidade. Tropeço em paisagens fora dos cartões postais, descubro segredos da Terra, conheço a diversidade da vida. Os odores são diferentes, os sons assustam e encantam ao mesmo tempo, a comida surpreende pelos ingredientes, a simpatia da gente local me cativa.
Um desses fins de mundo é o Ladakh, na Caxemira, a parte mais setentrional da Índia. Ali o Himalaia se divide em duas cadeias, entre as quais passa o Rio Indus. Andar pela região, às vezes a cinco mil metros de altitude, significa mergulhar no passado – ou no futuro. Tive ora a impressão de voltar à metade do século 20, ora de viajar a Marte. Bem poderia estar numa cidade mineira, onde ainda se vendessem farinha de trigo, arroz e açúcar em grandes sacas à porta do armazém – ou no cenário poeirento de Guerra nas Estrelas.
O Ladakh é árido, exceto à margem do rio Indus, onde as árvores crescem entre os pedregulhos trazidos pelas geleiras, e as corredeiras transformam a canoagem em descarga de adrenalina. A chuva e a neve caem com tanta raridade que os telhados são feitos com gravetos unidos por barro, frágil pau a pique. A cobertura derreteria se enfrentasse uma de nossas tempestades de verão.
No trabalho da terra, as mulheres cantam músicas próprias para cada estação, do plantio à colheita. Nos monastérios budistas, de tardinha, enormes trompas emitem o mantra ohm, sopro da alma que se reflete na cordilheira, e o eco conclama o vale inteiro à paz. Aliás, os monges rezam durante todo o dia pela paz no mundo. Bem, pelo menos tentam. E o fazem há muito tempo. Alguns de seus pergaminhos pacifistas datam do século 13. Examinei vários, sem entender os garranchos da escrita, que lembram palitos de fósforo em parada militar. Num gesto de cortesia, o lama me ofereceu chá com leite de iaque. Sim, tomei a bebida, mas não a recomendo.
Outro chá, no entanto, foi puro deleite. Aliás, puro, sem leite. Caminhava numa trilha, quando senti o perfume de pão quente. Delicioso. Originava-se numa casa de chá, quer dizer, era isso o que dizia a plaquinha na porta do cômodo pequeno, de terra batida. Lá dentro, vi o fogão a lenha com a panela da bebida fervendo, um forno cônico de metal enterrado no chão, cercado de brasa – e alguns ladakheanos, sentados de cócoras. Nenhuma mesa, nenhuma cadeira.
Enquanto saboreava o pão crocante, massa semelhante à do pastel, coberto de sementes de papoula, puxei assunto. Perguntaram-me de onde vinha. Jamais tinham ouvido falar de Pelé, de futebol, do Brasil. Éramos, para eles, um fim de mundo. Dois fins de mundo se tocavam.
Um dos presentes indagou o que me atraíra ao Ladakh. Olhei para fora. O sol se punha sobre o vale, o Indus adquirira a tonalidade turquesa dos glaciares, a cordilheira escalava o céu até a neve nos cumes se misturar ao azul, mulheres cantavam o término da jornada no campo, a lua cheia era uma hóstia atrás do perfil das montanhas. Nesse instante, a trompa do monastério soou, e o Himalaia reproduziu o mantra até o horizonte.
Senti a força do lugar, tão intensa que me sobreveio uma precoce saudade da vida. Aquele momento logo passaria; a imagem, não. Estava explicada minha atração. O fim do mundo faz fronteira com o paraíso. Ou estaria o paraíso num fim de mundo?
Luis Giffoni é Escritor, Membro da Academia Mineira de Letras. Prêmio Jabuti