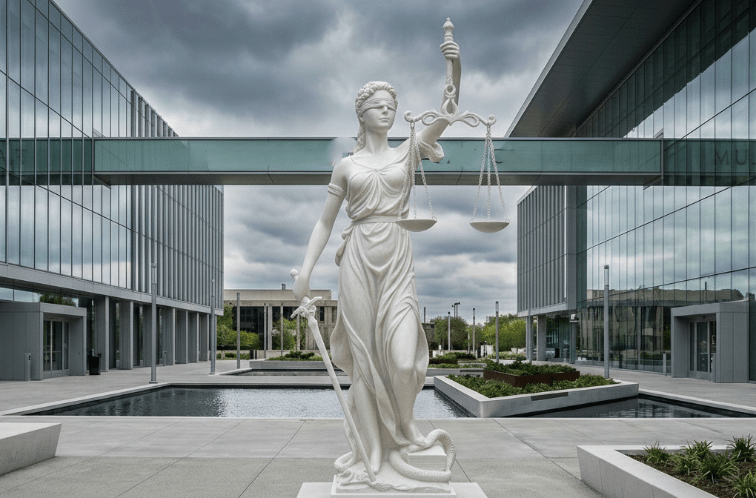Todos nós nos achamos criativos, inovativos em nossas ideias. Errado. Pensamos muito mais dentro da “caixa” do que possamos imaginar. Nossas ideologias e percepções são delimitadas dentro dos contornos das linhas de pensamento introduzidas no Renascimento e na Revolução Industrial, que dão os contornos de nossos pensamentos e ações.
Compartilhamos, até hoje, as ideias Baconianas de progresso, do início dos anos de 1600, e é isto que almejamos.
O Iluminismo Francês
O pensamento social moderno tem por base o Iluminismo Francês. Após a introdução da Teoria Heliocêntrica por Galilei em 1610, em 1637, Descartes, em “O Discurso do Método”, deu início ao pensamento racional moderno, da busca da verdade dentro da ciência, em todas as áreas do conhecimento humano, estipulando o raciocínio lógico. Em 1748, Montesquieu publica “O Espírito das Leis”, e em 1762 Rousseau publica “O Contrato Social”, o único instrumento que pode vir a tirar o homem da barbárie, através do regramento das leis, gerando a representatividade política das classes, a eleição dos melhores para governante, e a distribuição de renda devido à mediação política entre os grupos sociais. Instala-se a ideia da Democracia, matriz comum das teorias modernas, na sequência dos fatos históricos e de suas interpretações.
São as seguintes as principais vertentes de pensamento que daí se desenvolvem.
O Utilitarismo Inglês
Na Inglaterra, em 1776 Adam Smith, o “pai da economia”, publica “A Riqueza das Nações”, onde “não existe nada mais antigo no homem do que a propensão de negociar, barganhar, e trocar uma coisa pela outra”, em um país, a Inglaterra, que vai se modernizando progressivamente na descentralização da atividade econômica e no parlamentarismo representativo. A economia é regrada pela “mão invisível” do mercado.
A “Revolução Americana”, de 1775 a 1783, foi pautada nos princípios de Rousseau e de Adam Smith, da liberdade e do mercado, preceito dos “Pais da Nação”. O utilitarismo dos indivíduos e das sociedades leva ao desenvolvimento.
A Inglaterra se desenvolveu dentro de um paradigma mais descentralizado.
O Keynesianismo
O mercado pode criar expectativas que excedam o equilíbrio por si só. Durante o período da Grande Depressão nos Estados Unidos, o crescente investimento no mercado de ações sob a percepção de lucro nos papeis, sem a contrapartida do valor econômico, levou a uma bolha financeira com a quebra de Wall Street em 1929. Em pânico, as pessoas correram aos bancos, que não eram regulamentados quanto ao percentual de recursos que deveriam ter em caixa como reserva para o atendimento de crises, levando à falência de instituições financeiras, empresas, e ao desemprego.
Keynes, mantendo o mercado como conceito central das economias, contestou as ideias de Adam Smith, afirmando a necessidade da intervenção do Estado em investimentos macroeconômicos para o equilíbrio financeiro, com o pleno emprego e estabilidade contínua das sociedades.
A partir da década de 1930, os Estados Unidos se desenvolveram dentro do modelo Keynesiano.
O Funcionalismo Francês
Na França, a “Revolução Francesa”, de 1789 a 1799, ocorreu dentro do espírito das ideias de Montesquieu e de Rousseau, com o uso da violência contra um estado centralizado, expresso na afirmação de Luis XV de que “L’état c’est Moi”. Segue-se o Período do Terror de Robespierre, e de Napoleão, até o início da “Terceira República” em 1870. A obra de Auguste Comte de 1830 a 1842, “Curso de Filosofia Positiva”, e de Émile Durkheim em 1893, “A Divisão Social do Trabalho”, expressam a ideia francesa da organicidade das sociedades, na comparação com o corpo humano, onde o governo é o cérebro, a economia o coração, e assim por diante. A sociedade é caracterizada por funções.
A França se desenvolveu dentro de um paradigma mais centralizado.
O Marxismo
Em 1848, Marx escreveu o “Manifesto Comunista”, onde desenvolve a sua “Teoria Histórica do Modo de Produção”, e da necessidade da revolução do proletariado, para a eliminação das diferenças entre as classes e implantação do comunismo, onde ocorreria a verdadeira democracia. Preocupado com a crescente classe operária na Europa e de suas condições de vida, Marx indica a contradição no capitalismo entre forma coletiva de produção, e a forma individual de apropriação do lucro, que leva à revolução socialista, na implementação do socialismo democrático.
A socialização dos meios de produção, entretanto, levou à ineficiência econômica, com a derrocada dos países socialistas.
Marx achava que as Revoluções Socialistas ocorreriam nas economias capitalistas, o que não ocorreu. Como mostram os trabalhos de Barrington Moore e Theda Skocpol, as Revoluções Socialistas ocorreram em países periféricos de economia agrária centralizada, como na Rússia em 1917 e na China em 1949. Na Rússia, Stalin eliminou a propriedade privada na produção em 1929, enquanto, na China, Mao-Tse-Tung manteve a propriedade privada por até três gerações, para se evitar maiores combates, preservando, assim, a capacidade empresarial do futuro país.
A Social Democracia
O SPD – Partido Social Democrata Alemão, foi fundado em 1889, “social” no sentido da inclusão do trabalhador na economia, e “democrata” para o estabelecimento do sistema eleitoral nas economias capitalistas, o que então ainda era precário. No SPD, duas posições se opuseram. A de Kautsky, favorável à via democrática do exercício progressivo do voto para a obtenção de benefícios econômicos para os trabalhadores; e a de Rosa Luxemburgo, favorável à revolução social devido ao fato de que o voto econômico do empresariado tem mais peso do que o voto eleitoral dos cidadãos. A posição de Kautsky prevaleceu, com a Alemanha entrando no que se chamou de “Social Democracia” a partir da Constituição de Weimar em 1919.
Posteriormente, os países Escandinavos, para evitar a subida da esquerda radical, adotaram o modelo denominado como Social Democracia, introduzindo o 2º turno nas eleições. Os trabalhos de Adam Przeworsky mostram que o percentual de trabalhadores manuais cresceu ao longo do século XIX, estabilizando em cerca de 25% a população economicamente ativa a partir de 1920 para todas as economias, com o crescimento da classe dos “colarinhos brancos” a partir de 1900. Para fazer mais de 50% dos votos, a classe trabalhadora tem então que compor, gerando um sistema com ganhos recíprocos e rotatividade de poder entre os grupos sociais.
As Sociais-Democracias têm-se apresentado como o sistema mais equilibrado dentre os países, com rotatividade e benefícios para as classes sociais.
O Interacionismo Alemão
Max Weber, em “Metodologia das Ciências Sociais”, diz que os conceitos são “construtos” abstratamente gerados, que uma vez relacionados se comportam segundo os princípios lógica científica. Como esses “construtos” mudam ao longo do tempo, como o conceito, por exemplo, de “família”, as Ciências Sociais têm “O Dom da Eterna Juventude”, conforme artigo de Simon Schwartzman.
Para Max Weber, a “ação social” entre as pessoas é o fundamento das relações sociais. Em sua obra “Economia e Sociedade”, Weber somente utiliza os termos economia e sociedade, que seriam substantivos abstratos, na capa de seu livro.
Weber desenvolve o conceito de três sistemas econômicos e de lideranças: o “burocrático”, como um sistema moderno de regras consensuais para atender aos interesses de todos; o “carismático”, quando o líder transforma a sociedade para melhor, ou para pior; e o “patrimonial”, na apropriação do Estado por grupos políticos e econômicos para o proveito próprio. Os tres sistemas têm aplicação geral no pensamento social.
Sigmund Freud
Freud inaugura a moderna psicologia.
Em “The Ego and the Id”, Freud desenvolve os conceitos do “Id”, ou dos desejos inerentes ao homem; do “Superego”, onde se internalizam os valores e normas sociais; e do “Ego”, que media entre o “Id” e o “Ego”. O “Alter Ego” é o ente do desejo que o homem almeja como elemento externo, aquilo que ele admira ou gostaria de ser.
Freud abre o campo teórico para interpretações psicológicas do comportamento, que podem ser aplicados, por vezes, na explicação do comportamento político dos governantes.
Em suas teorias, Freud estabelece as pontes entre o psiquê e a realidade social, ou do homem e de sua realidade.
A Psicologia Social
George Simmel, contemporâneo de Freud, inaugura a Psicologia Social, em vertente autônoma aos trabalhos de Freud.
Simmel, em “The Philosophy of Money”, desenvolve a teoria do “compliance”, dizendo que existe uma relação recíproca entre o líder e o liderado, onde o liderado quer um líder “para se eximir da responsabilidade da ação social”. Às vezes, o “mestre” torna-se o “escravo de seus escravos”.
As teorias de Simmel dão a base para a interpretação a aspectos psicossociais de fenômenos como o fascismo e o nazismo. Não que o fascismo e o nazismo decorram de suas teorias, mas as teorias de Simmel formam o corpo teórico para a sua interpretação.
Albert Speer, em “Inside the Third Reich”, arquiteto e um dos ideólogos da Alemanha Nazista, escreveu que “Hitler e Goebbels foram, de fato, moldados pela própria multidão. A multidão determinava o tema. Para compensar a miséria, a insegurança, o desemprego e a desesperança, essa assembleia anônima chafurdava por horas a fio em obsessões, selvageria e licenciosidade. A infelicidade pessoal causada pelo colapso da economia foi substituída por um frenesi que exigia vítimas. Ao atacar seus oponentes e difamar os judeus, eles deram expressão e direção a ferozes paixões primárias”.
A irracionalidade também faz parte e é um produto da modernidade.
Crise Ecológica
A crise ecológica que se inicia irá romper as regras econômicas e sociais. O capitalismo destes últimos 200 anos trouxe em si a própria semente de sua autodestruição. A competição e o desenvolvimento são o leitmotiv da economia e os recursos do planeta são limitados, com o aquecimento global e quebra das cadeias produtivas. O interesse imediato prevalece sobre a racionalidade da sobrevivência futura.
O que se pensa está ficando velho, e o novo ainda não chegou.
Somente à beira do abismo o homem poderá formar novas opiniões e tomar decisões, que propiciem ou não a sua continuidade.
Epílogo
Pensamos dentro destes paradigmas, em maior ou menor grau, em várias possíveis combinações. Não é possível sair deles.
Vivemos hoje situações extremadas desses paradigmas, com a corda esticada em seus limites.
O homem vive em guerras e conflitos. Se esquecem da frágil condição que são. Como os Imperadores de Roma ao chegarem de guerras e conquistas em uma carruagem com um escravo dizendo em seus ouvidos “lembra-te que és mortal”.
Toda glória é efêmera.
Ricardo Guedes é Ph.D. em Ciências Políticas pela Universidade de Chicago. Autor do livro “Economia, Guerra e Pandemia: a era da desesperança”
l