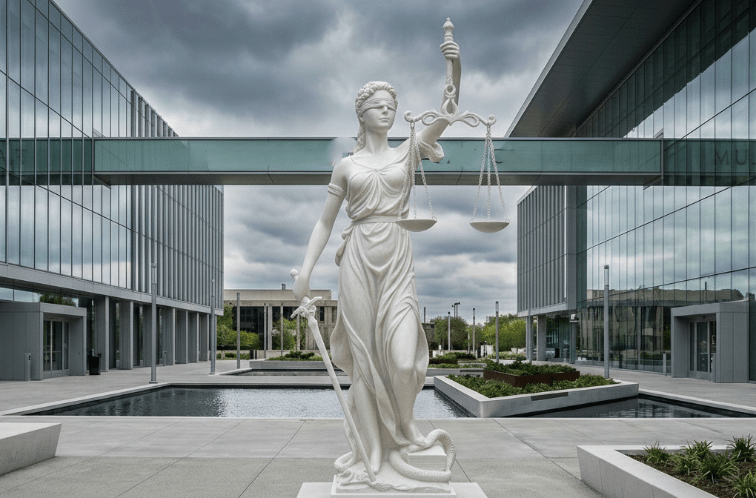“Quando líderes populistas chegam ao poder, a vida melhora para quem neles votou? Ou a retórica vence os factos?”
Em setembro de 2025, já é possível avaliar com alguma distância o impacto de líderes populistas em três democracias relevantes: Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. A promessa era clara: devolver dignidade às maiorias esquecidas, recuperar soberania e corrigir supostas distorções criadas pelas elites. Mas os dados mostram uma realidade distinta — a base eleitoral que sustentou esses movimentos foi, em grande medida, a que menos se beneficiou.
A retórica populista constrói-se sobre um antagonismo central: o povo contra o sistema. As soluções são apresentadas como simples, imediatas e redentoras. No entanto, a economia real é mais complexa: depende de cadeias globais, fluxos migratórios, confiança institucional e estabilidade regulatória. É por isso que, quando medimos resultados em PIB, inflação, emprego, migração e estabilidade social, a fotografia é menos favorável do que os slogans.
Brasil: entre a retórica e a emigração
A eleição de Jair Bolsonaro em 2018 prometia crescimento acelerado, menos crime e mais soberania. O choque da pandemia em 2020 abalou as bases da economia: a pobreza disparou, a inflação voltou a dois dígitos e o desmatamento aumentou. Entre 2019 e 2023, registou-se também uma forte emigração de brasileiros para a Europa, sobretudo para Portugal, que concedeu 147 mil autorizações de residência em 2023, o maior salto já registado.
Após 2023, os indicadores começaram a mudar. O desemprego caiu, a pobreza recuou em quase 9 milhões de pessoas e o desmatamento da Amazónia teve a maior queda em 20 anos, com menos 30,6% em 2024. A inflação também desacelerou para 5,1% em agosto de 2025. Ou seja: a situação da população vulnerável é melhor hoje do que no auge da crise, mas isso ocorreu depois da saída de Bolsonaro e não durante a sua governação.
Estados Unidos: tarifas, imigração e a base industrial
O slogan “America First” de Donald Trump prometia devolver empregos industriais e recuperar o orgulho nacional. No primeiro mandato (2017–2020), antes da pandemia, o desemprego atingiu mínimos históricos de 3,5%. Contudo, a guerra comercial com a China elevou custos de insumos industriais e estudos da Reserva Federal estimam que as tarifas adicionaram 0,1–0,2 pontos percentuais à inflação núcleo.
No segundo mandato, iniciado em 2025, a retórica converteu-se em política: tarifas mais altas e restrições à imigração. O Congressional Budget Office (CBO) já projeta que estas medidas vão reduzir o crescimento potencial e pressionar a inflação ao encarecer importações e encolher a força de trabalho. Paradoxalmente, a base blue-collar que mais acreditou nestas medidas é a que mais sofre com preços mais altos e menor dinamismo económico.
Reino Unido: Brexit e o custo da soberania
Boris Johnson e o Brexit prometeram recuperar o controlo das fronteiras e libertar o Reino Unido das “amarras” de Bruxelas. Em 2025, o consenso oficial mantém-se: segundo o Office for Budget Responsibility, o Brexit reduziu o PIB potencial britânico em cerca de 4% face ao cenário de permanência na União Europeia — uma estimativa de longo prazo que traduz o impacto acumulado de menores fluxos comerciais, investimento e mobilidade laboral.
No plano mais imediato, os custos já são sentidos. Estudos do London School of Economics estimam que os preços dos alimentos aumentaram cerca de 3,5 pontos percentuais devido às novas barreiras alfandegárias, embora parte desta inflação também resulte de choques globais (pandemia, guerra na Ucrânia e disrupções logísticas).
Além disso, a política migratória pós-Brexit, marcada pelo fim da liberdade de circulação da mão de obra europeia, agravou a escassez de trabalhadores em setores como agricultura, saúde e hospitalidade. É certo que fatores adicionais – como envelhecimento populacional e efeitos da pandemia – também contribuíram, mas o Brexit atuou como acelerador de uma tendência estrutural de falta de mão de obra qualificada e de base.
O eleitor médio pró-Brexit ganhou em soberania simbólica, mas viu o seu rendimento real pressionado por custos mais altos e menor dinamismo económico. Em termos agregados, os benefícios são difusos, enquanto os custos tornam-se cada vez mais palpáveis, sobretudo para as classes populares que foram decisivas no referendo de 2016.
Quem realmente ganhou?
Se a base popular não viu as promessas cumpridas, é legítimo perguntar: quem parece ter saído beneficiado?
1- Elites económicas específicas: no Brasil, grandes exportadores de soja e mineração lucraram com câmbio desvalorizado e afrouxamento ambiental; nos EUA, setores como aço e alumínio foram protegidos por tarifas; no Reino Unido, consultorias e escritórios de arbitragem regulatória em Londres ampliaram receitas.
2- Elites políticas: líderes e partidos populistas consolidaram redes de poder e influência institucional, mesmo após deixarem o governo.
3- Plataformas digitais: redes sociais e big techs ganharam audiência, poder e receita com a polarização. O modelo algorítmico baseado em engagement favorece conteúdos emocionais e divisivos, multiplicando a difusão de mensagens simplistas.
O perigo das redes sociais
O papel das redes sociais é talvez o maior legado destes movimentos. Estudos da Universidade de Oxford e do MIT mostram que notícias falsas se espalham até 70% mais rápido do que factos no X (ex-Twitter). Em países como o Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral documentou o impacto das campanhas de desinformação nas eleições de 2018 e 2022.
Ao amplificar mensagens polarizadoras, as plataformas tornam-se parte ativa da engrenagem populista: criam bolhas informativas, corroem a confiança nas instituições e tornam a democracia refém de narrativas virais.
Reflexão final
A experiência do Brasil, dos EUA e do Reino Unido revela o paradoxo do populismo: mobiliza massas com promessas de inclusão, mas entrega ganhos concentrados em elites económicas, políticas e digitais. Para o cidadão comum, o saldo é ambíguo – algum alívio após crises, mas poucas melhorias estruturais duradouras.
O verdadeiro risco não é apenas económico. É institucional. O eleitor parece cada vez mais cansado de partidos burocráticos e políticos distantes, abrindo espaço para lideranças que testam os limites da democracia. Como advertia Platão na República, “a democracia, pela sua liberdade ilimitada, dá origem à tirania”. E Aristóteles acrescentava, na Política, que “o demagogo é, em verdade, o verdadeiro soberano, pois o povo torna-se monarca, mas um monarca composto de muitos”.
O que estes filósofos perceberam há mais de dois mil anos continua atual: quando a demagogia substitui o debate racional, abre-se caminho à erosão das instituições e à ascensão de regimes personalistas. O caso norte-americano de 2025 é um alerta: um líder eleito democraticamente pode usar o voto popular para enfraquecer tribunais, limitar agências e concentrar poder.
Se partidos e instituições não se reinventarem, aproximando-se do eleitor com propostas claras, pragmáticas e baseadas em resultados, o risco não é apenas perder crescimento económico. É perder a própria democracia.
Filipe Colaço é Engenheiro Civil pela Universidade Nova de Lisboa, MBA pela Henley Business School, Inglaterra, e Director da Consulting Services EY Angola. Tem 18 anos de experiência em companias multinacionais, como a Deloitte e Boston Consulting Group, com projetos em Energia, Agronegócios, Mineração, Construção e Sector Público
l